Ao longo da semana passada, Facebook desactivou a página da Comilva, uma associação italiana cuja finalidade é obter a liberdade de escolha no domínio das vacinas e da protecção dos direitos dos que pelas vacinas foram prejudicados. Não tem sido o primeiro caso de censura e a mesma linha de Facebook está a ser seguida por Youtube. De Google nem vale a pena falar.
Mas agora um salto até o outro lado do oceano: umas plataformas de comunicação “abertas a todos” decidem retirar a palavra do Presidente dos Estados Unidos, uma vez considerado “o homem mais poderoso do mundo”. Plataformas americanas, teoricamente sujeitas às leis daquele País e, em última análise, ao próprio Presidente.
Deixemos de lado qualquer consideração sobre Trump, porque neste caso é irrelevante se ele for ou não um criminoso (se a ideia fosse retirar a palavra de todas as pessoas perigosas, internet seria um lugar muito menos utilizado). A questão levantada pelas decisões de Twitter, Facebook, Instagram e Youtube investe problemas sistémicos de outro tipo: a relação entre as plataformas sociais, os meios de comunicação de massa, a política e os Estados.
Afirma Thierry Breton, Comissário da UE para o Mercado Interno, num artigo publicado no Politico e no Le Figaro (resumo em português no Diário de Notícias):
O facto de um CEO poder puxar a ficha do microfone do Presidente dos Estados Unidos sem quaisquer verificações e equilíbrios é intrigante. Não é apenas uma confirmação do poder destas plataformas, mas também mostra profundas fraquezas na forma como a nossa sociedade está organizada no espaço digital.
Em suma, estamos a falar de poder, de quem está realmente no comando, não de um homem.
Neste tipo de organização social, no nosso Capitalismo Post-Capitalista Financeiro Neoliberal, qual é a hierarquia entre os diferentes poderes? Entre os públicos (Estados, Parlamentos, instituições, etc.) e os privados?
Até agora temos vivido, pelo menos teoricamente, no mundo de Montesquieu, o político e filósofo francês criador da teoria da separação dos poderes, actualmente consagrada em muitas das modernas Constituições: o poder público do Estado firmemente no lugar de comando e as empresas privadas relegadas para segundo plano. Poderosas, certamente, capazes de manobrar a política através das lobbies ou “comprando” directamente os expoentes políticos de todos os sectores, mas oficialmente fora do centro do poder.
Com o aparecimento das empresas multinacionais, este esquema já tinha sido quebrado, mas continuámos a fingir que ainda estávamos no antigo mundo dos Estados-Nação. Muitas destas mega-corporações tinham (e ainda mais têm agora) volumes de negócios/lucros superiores aos orçamentos de quase todos os pequenos Estados: só a empresa financeira Blackrock, com três executivos que serão altos funcionários do governo Biden, gere 7 triliões de Dólares, cerca de 4 vezes o PIB dum País de médias dimensões.
Na realidade, portanto, estes tipos de empresas têm há anos a capacidade de determinar o rumo da política. Depois apareceram as plataformas sociais e deu-se mais um salto qualitativo. Porque em apenas alguns anos tornaram-se o meio através do qual são feitas campanhas publicitárias, comerciais, culturais, de informação e de política. Já vimos Presidentes dos EUA serem eleitos graças à sua capacidade de escolher uma equipa de gestores “sociais” criativos do mais alto nível (com Obama antes, depois com o próprio Trump), mas nesta altura até na Europa é difícil imaginar uma campanha eleitoral sem uma grande relevância nos medias sociais.
Em princípio esta “prática” funciona se a plataforma for indiferente aos sujeitos que a povoam. Isto é, se não participarem directamente no discurso político, privilegiando uns e prejudicando outros. Mas não é o que acontece: sabemos por experiência directa que as plataformas utilizam de facto algoritmos “selectivos” de mensagens políticas, discriminando os indesejáveis. Sabemos também que várias organizações políticas foram “proibidas”, mas até agora isto era feito por iniciativa do poder judiciário ou das forças policiais nacionais. São exemplos poucos simpáticos (de facto trata-se sempre de limitar a liberdade de expressão e, no fundo, a ideia de democracia) mas que não põem em causa a prevalência do poder do Estado sobre os indivíduos privados.
Todavia, o caso Trump quebrou esta alegada “neutralidade política” das plataformas, acelerando o processo de formação de plataformas politicamente orientadas. Como é o caso de Parler, nascido explicitamente para encorajar a propagação do pensamento reaccionário e agora censurado em todas as suas formas: Android (Google) até apagou a app de Parler do seu repositório. Pelo que: os proprietários das plataformas sociais fazem política, dão e retiram a palavra, decidem quem terá a oportunidade de transmitir as suas mensagens ao mundo inteiro e quem, ao contrário, está condenado ao anonimato ou quase.
Falar de “democracia” nestas condições é simplesmente ridículo e patético. A “livre opinião” é um sonho e aqui temos uma das melhores demonstrações. Dezenas de “democratas”, comentando a proibição de Trump, apelaram imediatamente para que esta fosse implementada mesmo para os inimigos históricos dos EUA, como Maduro, Kim Jong Un, os ayatollahs, Hezbollah… “democratas” que não conseguem (ou não querem) ver o ponto central: o poder de difundir globalmente uma mensagem está confinado nas mãos de muito poucos no interior dum punhado de plataformas que concorrem para moldar a opinião pública em quase todo o mundo.
Portanto, as opiniões “indesejáveis” são silenciadas, sejam elas comunistas, fascistas (se é que estes termos ainda significam algo) ou de qualquer outro “-ismo” não politicamente correcto, exactamente como aconteceu com Trump.
Ainda o Comissário Europeu Breton que, graças ao seu papel de “superintendente do mercado”, parece ter entendido o problema (sim, pode haver pessoas dotadas de inteligência até no seio da União Europeia: são as típicas excepções que confirmam a regra):
Tal como o 11 de Setembro marcou uma mudança de paradigma para os Estados Unidos, se não para o mundo, haverá, quando se trata de plataformas digitais na nossa democracia, um antes e um depois de 8 de Janeiro de 2021 [a data em que Twitter suspendeu permanentemente a conta de Donald Trump, ndt]. Essa data permanecerá como um reconhecimento por parte das plataformas da sua responsabilidade editorial e do conteúdo que transmitem. Uma espécie de 11 de Setembro no espaço noticioso. Relevante ou não, pode a decisão de censurar um Presidente em exercício ser tomada por uma empresa sem um legítimo e democrático controlo?
Perguntas que devem ter feito vacilar alguns líderes políticos: o que aconteceu a Trump pode acontecer a qualquer um deles amanhã, decretando a sua morte política por decisão de um Zuckerberg (Facebook), um Larry Page ou Sundar Pichai (Google), um Jack Dorsey (Twitter), uma Susan Wojcicki ou um Kevin Systrom (Instagram).
Importante a menção da “responsabilidade editorial pelo conteúdo”: este também é um tema central do suposto “jogo democrático”. Até agora, os meios de comunicação históricos (jornais, televisão, rádio, revistas, livros, etc.) caracterizavam-se por um sistema de regras bastante rígido: cada meio de comunicação era uma “entidade privada”, mesmo quando pública, com alguém (gestores ou editores) que seleccionava o que podia ou não ser publicado, e, portanto, era criminalmente e civilmente responsável pelo que aparecia nas suas páginas (em papel, via éter ou online).
As plataformas, pelo contrário, têm sido até agora completamente “irresponsáveis” pelo que é colocado nos seus discos rígidos, porque declaram ser indiferentes ou neutras no que diz respeito aos conteúdos. Eventualmente são os utilizadores os únicos que têm de responder pelo que é publicado, precisamente porque não há uma selecção a montante, no momento da publicação.
Mas se as plataformas começam agora a discriminar quem pode aceder e quem não pode com base na opinião política, então estão indirectamente a admitir que são “editores”, que gerem os conteúdos. Por outras palavras, o que é publicado deve ser antes aprovado. E assim a responsabilidade criminal e civil deve ser accionada.
Um inferno: todos os dias são publicados dezenas de biliões de mensagens, fotos, vídeos, etc., sem que ninguém consiga impedi-lo (a não ser um punhado dos algoritmos), o que significa queixas, tribunais, compensações e penalizações. As alternativas? Ou um verdadeiro controlo editorial (impossível, repito, consideradas as dimensões) ou a drástica redução dos utilizadores autorizados a publicar.
Aos “paladinos da democracia digital” convertidos em censores preventivos contra todos os “inimigos”, apenas um conselho: pensem duas vezes antes de falar, porque a partir de Janeiro de 2021 as plataformas mudaram a história delas tal como o seu modelo de negócio, serrando o ramo dourado em que estavam sentadas.

Uma proposta
Até aqui os factos. Mas podemos ir além? Porque não é suficiente criticar, é necessário propor uma alternativa. Eis a minha.
Considerado que Facebook, Youtube, Google, Twitter e os outros desenvolvem uma função que já não pode ser definida como “privada”; que estes demonstraram através da censura de actuar não apenas como “publicadores” mas sim como “editores”; que estes são os canais preferenciais (quando não impostos) utilizados por biliões de indivíduos na nossa sociedade: por qual razão não pensar numa alternativa realmente pública?
Posta de lado a ideia de nacionalizar os vários Facebook, Google, Twitter e companhia (na minha óptica seria um erro que constituiria um perigoso antecedente, segundo o qual um Estado tem o direito de apropriar-se duma empresa privada quando esta alcançar um determinado patamar de difusão), acho que tais empresas devem ser desafiadas e combatidas no território delas, no mercado e com a concorrência.
Uma das maiores hipocrisias do nosso tempo é aquela segundo a qual o Estado tem que manter-se fora do mercado, com algumas e bem limitadas excepções. E o resultado é que até hoje internet foi totalmente abandonada nas mãos dos privados. Algo inconcepível dado que se trata dum instrumento vital na sociedade moderna e, como tal, tem que incluir algumas áreas de propriedade dos cidadãos, de todos os cidadãos (porque o Estado somos nós). O Estado não pode e nem deve substituir os privados na gestão de internet, mas deve estar presente com as suas ofertas, tal como acontece no âmbito da instrução ou da saúde. Pelo que: qualquer Estado deveria oferecer plataformas para os cidadãos partilharem opiniões e para comunicar.
“Não”? E por qual razão? Pessoal, estamos no século XXI, a sociedade já não é aquela dum tempo, as exigências mudaram. Se nos anos ’50 telefones, televisões e rádios estavam nas mãos dos Estados era porque havia a necessidade de ampliar as fronteiras da comunicação e do conhecimento de todos os cidadãos: havia a necessidade de fazer crescer os cidadãos, ampliando os horizontes deles. Hoje há um instrumento que permite ampliar ainda mais as tais fronteiras: mas, contrariamente ao que aconteceu no passado, é totalmente deixado ao sabor dos privados. Qual a lógica?
Repito para evitar mal-entendidos: o Estado não tem que apropriar-se de internet, o Estado não pode e não deve substituir-se ou sobrepor-se aos privados. Mas tem que poder jogar com eles, no mesmo campo e com as mesmas regras. Caso contrário não é possível falar de “livre mercado”, só dum mercado privado (que, de facto, é o que temos). Reparem na contradicção de base: o mercado tem que ser deixado aos privados mas o Estado, que é o maior grupo de privados (os cidadãos), fica excluído. Mas qual o sentido em ter televisões ou rádios públicas mas internet exclusivamente privada?
Pelo contrário: no âmbito absolutamente fundamental qual é internet, o Estado tem o dever de estar presente com uma oferta de serviços básicos que garanta a liberdade de expressão/comunicação/informação a todos os cidadãos. Todos os cidadãos devem poder comunicar, seja com uma rede social, seja com vídeo, seja como a variedade de instrumentos que a tecnologia de hoje oferece, independentemente das suas possibilidades económicas. Claro, o cidadão ficará livre de escolher o básico do Estado ou o “algo mais” dos privados (ou ambos), mas uma escolha deve ser possível, enquanto hoje é negada.
Serviços básicos aqueles do Estado, como afirmado, com uma plataforma regida pelas mesmas regras adoptadas no caso dos privados (por exemplo: financiamento através da publicidade e não com dinheiro público), porque a concorrência deve ser respeitada para evitar os monopólios. Que, de facto, hoje já existem mas são privados…
Internet está em qualquer lugar mas o conjunto dos cidadãos (o Estado) não está na internet, a não ser como sujeitos passivos. E esta, na minha óptica, é uma anomalia.
O que acham os Leitores? E já agora: sabem os Leitores a quem pertence internet?
Ipse dixit.

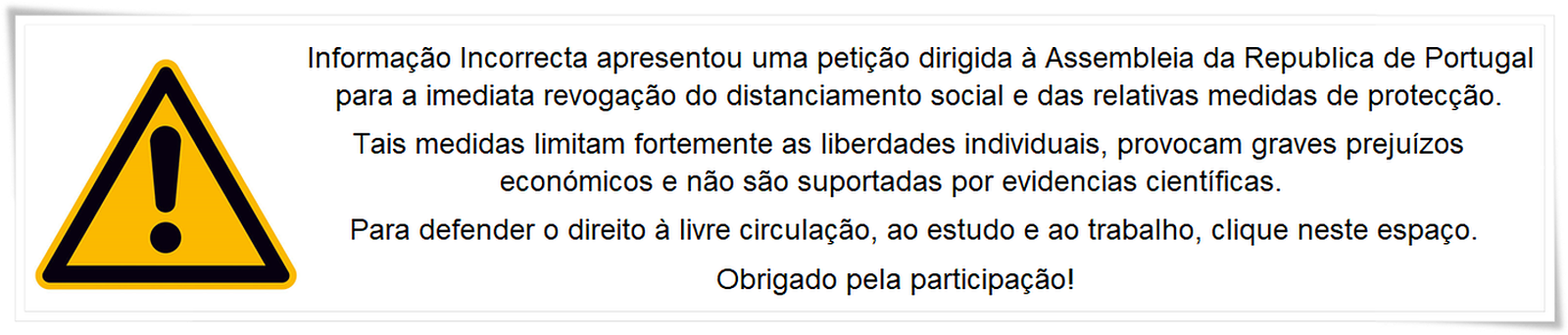

A empresa Twitter decidiu censurar a página da vacina Russa, Sputnik V:
– Twitter restringe temporalmente el acceso a la cuenta de la vacuna rusa Sputnik V
https://actualidad.rt.com/actualidad/380182-twitter-restringe-acceso-cuenta-sputnik-v
Qualquer país/Estado evoluído e independente concebe os seus sistemas operativos e a própria ligação à Internet, assim como aplicações, redes sociais, etc., veja-se o exemplo da Federação da Rússia e da República Popular da China (RPC).
Quando o estado tem à sua disposição ferramentas que poderiam fazer muita diferença, nem que seja na poupança de um enorme valor, e não as usa, estamos conversados. Exemplo: Linux (para os PC), Libreoffie, Openoffice, Collabora (para trabalhos), BigBlueButton (para as escolas), Jitsi (para as videoconferencias), e por ai vai nesta altura em que o contacto passou a ser digital alimentando a enorme base de dados pessoais.
Muito por onde escolher: https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted
Olá Max: ideias excelentes e óbvias mas que não conseguimos elaborar e tornar discurso.
Mas pensando que só Estados independentes fazem uso de tais recursos, sobram os nossos, que obviamente são dependentes, e como tal não inventam alternativas.
É de se notar que a natureza dependente dos Estados nos quais vivemos, reforça a nossa dependência coletiva e pessoal, cuja influência maior, controle e subservencia dos Estados dependentes acaba de provar e expor que suas plataformas são o grande irmão, mas não somente isso, são o irmão maior.
O caso T. mostrou as mazelas do mundo para uma parcela diminuta da humanidade, aquela que por livre pensamento já imaginava coisa parecida. A maioria continua no escuro. Então não contamos com a força dos cidadãos “empurrando” seus Estados.
Contamos com o que propriamente ??? E não se trata de pessimismo, mas de realidade.