O mundo digital: podemos fazer duas contas? Esqueçam o dióxido de carbono, bom para gretinos e acólitos. Falamos aqui de energia, recursos, desperdício, reciclagem, poluição. Porque o mundo digital não é sustentável: um mundo digital como tem sido encarado e oferecido até hoje nunca poderá ser o futuro.
O sociólogo Alessio Giacometti tenta tirar uma fotografia da actual situação num artigo publicado na revista online Il Tascabile e aqui resumido.
O mundo digital não é sustentável
Alguns números: para fabricar um computador são utilizadas 1.7 toneladas de materiais, incluindo 240 quilos de combustíveis fósseis. Internet sozinha suga 10% da electricidade mundial e, em comparação com dez anos atrás, polui seis vezes mais, com emissões que hoje equivalem às de todo o tráfego aéreo internacional. Duas pesquisas do Google libertam tanto gás como um pote de água em ebulição, Netflix consome por si só a energia de 40.000 lares americanos: meia hora de streaming emite como dez quilómetros percorridos de carro (mas outros dizem “só” um quilómetro), enquanto um único ciclo de treino linguístico de um algoritmo polui como cinco carros térmicos ao longo da sua vida útil. Globalmente, o consumo de energia da inteligência artificial duplica a cada 3.4 meses, e para resolver um cubo de Rubik em poucos segundos um algoritmo precisa da electricidade produzida numa hora por três centrais nucleares.
Depois há os jogos de vídeo: graças à “pandemia” do coronavírus e às consequentes restrições, 2020 foi um ano recorde para a indústria dos jogos de vídeo, que só nos Estados Unidos absorve 2.4% da electricidade doméstica, mais do que congeladores e máquinas de lavar, gerando tantas emissões como 55 milhões de automóveis com motores de combustão interna.
Existe, finalmente, a questão da moeda digital: na sua forma actual, uma única transacção Bitcoin é equivalente em termos de emissões à de 680 transacções Visa e 51 horas de binge watching (ver múltiplos episódios duma mesma série) no YouTube. Paradoxalmente, extrair um Dólar de Bitcoin requer quatro vezes mais energia do que criar um Dólar em cobre e três vezes mais do que um em ouro, com proporções apenas ligeiramente melhores para outras moedas criptográficas como Ethereum, Litecoin e Monero. A moeda digital nada mais é do que a energia utilizada para produzi-la, e quanto mais é produzi-da, mais cálculos e energia são necessários para gera-la. Razão pela qual os locais de produção tendem a explorar a recuperação do gás do fracking ou ficam localizadas onde a electricidade é produzida a partir do carvão e, portanto, vendida a preços competitivos (como é o caso da China). As emissões do sector excedem agora as de inteiros Países como a República Checa e o Qatar. Os computadores utilizados na extracção de moedas criptográficas aquecem tanto que são arrefecidos por sistemas de ventilação semelhantes aos utilizados nas explorações intensivas de galinhas.
Carvão e arrefecimento para galinhas: este é o Bitcoin hoje. Enganados pela pequena dimensão dos nossos dispositivos digitais, não paramos para pensar na gigantesca indústria por detrás deles, nas enormes quantidades de recursos materiais que consomem quando os utilizamos, e nas condições de trabalho daqueles que abastecem a indústria com esses recursos.
Colossus e Eniac, entre as primeiras calculadoras da história, pesavam 5 e 27 toneladas, respectivamente. Hoje, no planeta, uma em cada cinco pessoas possui um smartphone que tem uma capacidade de processamento que ultrapassa o computador que a NASA utilizava para enviar o primeiro ser humano para a Lua. A introdução do silício nos circuitos integrados é responsável pelo espantoso desenvolvimento dos microprocessadores, que teve início em 1971 com o lançamento do Intel 4004. Desde então, o poder computacional duplicou efectivamente a cada dezoito meses, mas a materialidade das tecnologias digitais não desapareceu: foi meramente removida de debaixo dos nossos olhos.
Longe de viver no éter, internet flui como petróleo através de oleodutos em 1.2 milhões de quilómetros de cabos que atravessam o fundo do oceano. As compras online ou as conversação requerem combustível, e se as fontes renováveis forem insuficientes, a electricidade deve ser obtida a partir de gás e carvão. Não existe tal coisa como o cloud, uma “nuvem”: o cloud é apenas um enorme computador a funcionar a pleno vapor num centro de dados quente e congestionado. Pela sua própria natureza, o software consome o mundo físico, porque os bits não existem sem átomos. Mesmo que aprendêssemos a codificar melhor, a testar mais rigorosamente, e a reciclar mais, seria fisicamente impossível não consumir matéria e energia.
Resumo: as tecnologias digitais, essenciais para reduzir as emissões e travar o debatido aquecimento global, não são nem imateriais nem sustentáveis.
Nuvens que pingam petróleo
Medir a pegada ecológica das indústrias informática e digital é uma tarefa laboriosa e assustadora: para além do Cleaning Click Report de Greenpeace, há muito poucas outras tentativas dignas de nota. Para se ter uma ideia de quanta energia os centros de dados gastam, foi introduzido há anos um indicador de eficiência de utilização de energia (PUE), mas este mede a eficiência dos servidores não a sua pegada ecológica. Assim sabemos que o supercomputador mais eficiente do planeta poderia ser alimentado por electricidade derivada inteiramente da queima de carvão, a fonte de energia mais poluente, como efectivamente acontece no caso de muitos centros de dados. Que são cerca de oito milhões em todo o mundo. Facebook possui os seus próprios servidores, a Netflix conta com os da Amazon, que controla a maior quota do mercado de cloud computing juntamente com Microsoft e Google. Desde 2010, a capacidade informática total dos centros de dados cresceu 550%, enquanto que o consumo de electricidade aumentou apenas 6%. Notável. Contudo, os peritos acham que a eficiência dos servidores atingiu os seus limites.
A fim de evitar a fusão dos computadores sobreaquecido durante o processamento de dados, estão agora a ser feitas tentativas para incorporar sistemas miniaturizados de arrefecimento líquido nos componentes electrónicos. Noutros lugares, estão a ser testadas ainda mais soluções futuristas, tais como fazer com que os chips funcionem com fotões em vez dos normais electrões, ou armazenar dados informáticos em DNA das bactérias. O Facebook resolveu o problema do arrefecimento relocalizando parte das suas explorações de servidores na gelada península escandinava, enquanto a Microsoft recentemente voltou a pescar os 864 servidores do projecto experimental Natick, que visa explorar as baixas temperaturas das profundidades do mar para arrefecer os processadores. Se o calor produzido pelos computadores não for eliminado de alguma forma, existe de facto o risco de as “nuvens” de dados pegarem fogo. E não é apenas teoria: ver para crer o recente incêndio num dos centros de dados de Estrasburgo do gigante dos computadores OVHcloud.
O facto é que tecnologias como a 5G, a computação quântica, a inteligência artificial, a blockchain, as moedas criptográficas, as impressoras 3D, a Internet das Coisas, os carros que se conduzem sozinhos… tudo isso tornará necessários novos centros de dados e muita, mesmo muita energia para alimentar, para armazenar e manter vivos os dados que estão na base de toda a infra-estrutura digital. Onde vamos buscar a energia numa altura em que estamos a cortar as fontes não renováveis?
Os gigantes da indústria informática já são os maiores consumidores de electricidade do mundo, mas de momento não parecem estar a levar o problema a sério. Há também a questão da utilidade real dos dados armazenados nos servidores (parece que apenas 6% está realmente em uso) e a utilização ambígua dos supercomputadores, que são demasiadas vezes postos ao serviço das empresas petrolíferas e mineiras.
Exemplo prático: um computador de alto desempenho está localizado em Itália, na zona rural de Pavia, e trata-se do Green Data Center da Eni. Foi neste grande centro de processamento de dados que o HPC-5, ainda no top dez dos supercomputadores mais potentes e eficientes em termos energéticos do planeta, entrou em funcionamento no início de 2020. Os seus 70 petaflops de potência (uma capacidade computacional de 52 milhões de operações por segundo) trabalham em parte em projectos de investigação sobre fontes renováveis e em parte na detecção de novos campos de gás e petróleo. Em 2015, foi um dos primeiros HPCs do Grupo Eni a descobrir o maior campo de gás natural do Mediterrâneo, reduzindo para metade o tempo médio de localização de novos locais de extracção.
E não é um caos isolado: Amazon, Google e Microsoft estão também a ceder os seus principais serviços aos gigantes da indústria fóssil, razão pela qual Greenpeace fala abertamente de parcerias que devastam o planeta, de clouds que pingam petróleo. Foi esta a promessa de sustentabilidade da computação e da revolução digital? Utilizamos enormes quantidades de energia para executar supercomputadores, armazenar dados e alimentar inteligência artificial, apenas para descobrir novos campos de gás e petróleo, enquanto culpamos o cidadão por causa do seu carro a gasóleo?
Asfixiados pelo e-waste
Em aberta contradição com a percepção de sustentabilidade e imaterialidade das tecnologias digitais está também a questão do lixo electrónico, resultante principalmente da eliminação de smartphones, computadores, periféricos e outros produtos electrónicos de consumo. De acordo com o Global E-waste Monitor da ONU, 53.6 milhões de toneladas de lixo electrónico foram geradas em 2019, mais de 7 quilos para cada habitante do planeta: um número que está a crescer a uma taxa três vezes superior à da população mundial. Para onde vão tantos dispositivos descartados, frequentemente deitados fora ainda em funcionamento e bem antes de terem completado o seu ciclo de vida potencial? Também em 2019, apenas 17% do lixo electrónico entrou em circuitos de reciclagem legais, tendo o resto sido perdido em aterros ilegais em África e no Sudeste Asiático. Aqui, para acelerar a recuperação de metais raros, os componentes plásticos dos resíduos electrónicos são normalmente queimados em piras altamente poluentes que dispersam no ambiente substâncias nocivas como dioxinas, chumbo, mercúrio, cádmio.
As massas tecnológicas tóxicas e obsoletas são exportadas para o Sul do mundo porque, caso contrário, a reciclagem seria um processo complexo e dispendioso. Um único smartphone contém 40 elementos metálicos diferentes, alguns dos quais são valiosos e reutilizáveis tais como estanho, tungsténio, tântalo e ouro, mas a desmontagem dos circuitos é uma operação ineficiente em comparação com a extracção desregulamentada de matérias-primas “virgens”. Mesmo a eliminação de baterias é difícil e poluente, e até agora existem apenas duas técnicas conhecidas: a pirometalurgia, que as funde a temperaturas muito elevadas, e a hidrometalurgia, que as dissolve em ácidos hiper-corrosivos. As baterias em particular mostram como é típico da indústria digital desenvolver tecnologias sem prestar qualquer atenção ao impacto ambiental, sacrificando a sustentabilidade no altar do desempenho, da experiência do consumidor e da competitividade no mercado. A retórica da inovação tem tudo a ver com o desempenho das tecnologias de comunicação, nunca com a sua capacidade de serem reparadas, recicladas, reutilizadas, regeneradas.
Estamos todos habituados à obsolescência tecnológica planeada, todos temos experiência disso: computadores portáteis que se avariam pela primeira vez fora de garantia nos primeiros três ou quatro anos de funcionamento, o invólucro plástico dos leitores ebooks colados de forma a dificultar a sua abertura e substituição da bateria, empresas que soldam os componentes internos dos seus dispositivos para evitar que sejam reparados. Em suma, produtos que falham de acordo com o plano e são deliberadamente concebidos para não serem recuperados, também porque as empresas-mãe geralmente não fornecem qualquer instrução sobre o assunto e as comunidades de reparadores independentes são forçadas a organizarem-se a partir de baixo, muitas vezes opostas pelos fabricantes. O pequeno reparador de smartphones Henrik Huesby, por exemplo, foi processado pela Apple, uma empresa de capitalização de trilião de Dólares e 200 milhões de aparelhos vendidos em 2019, por ter reparado iPhones com ecrãs considerados falsificados. A Apple, por seu lado, foi multada por introduzir actualizações que atrasaram o funcionamento de modelos iPhone mais antigos, uma prática que os analistas apelidaram de throttling, (“estrangulamento”): é a nova fronteira da obsolescência induzida, não uma falha prematura do dispositivos devido a defeitos ocultos mas uma discrepância subtil e planeada entre hardware e software que os torna efectivamente inutilizáveis.
Enquanto a União Europeia insiste na introdução do direito à reparação e na extensão da legislação de concepção ecológica de aparelhos domésticos, smartphones, computadores portáteis, etc., a Apple está a resistir à pressão da União para adoptar o conector USB-C como padrão internacional de carregamento e com a remoção da tomada de áudio (o pequeno jack) inaugurou a obsolescência dos auscultadores com fios a favor do novo negócio dos sistemas sem fios, muito mais impactante devido às baterias incorporadas. Mas tudo isso tem o efeito de desviar a atenção do ponto central da questão: porque é que a indústria electrónica e digital nunca assumiu a responsabilidade pelos resíduos que produz e pelos problemas ambientais que os seus produtos causam? Numa economia verdadeiramente sustentável e circular, o que polui ou não pode ser reciclado, reparado e reutilizado deve ser redesenhado, caso contrário, as vendas serão restringidas e, em última análise, proibidas do mercado.
O mundo a um clique
Como Samanth Subramanian escreveu num artigo no Guardian, também o comércio digital exacerbou significativamente o nosso impacto sobre o ambiente. Transforma a compra num clique e é como ter o mundo à sua porta, muda radicalmente a percepção da realidade: o grande engano do retalho online tem sido o de nos pressionar a comprar cada vez mais e pensar cada vez menos, especialmente sobre como as compras chegam às nossas casas. Para suportar a entrega, os produtos digitais comprados nas prateleiras requerem embalagens significativamente mais robustas: adicionar um milímetro de espessura ao cartão para o tornar mais forte, quando multiplicado por centenas de biliões de caixas, pode consumir uma floresta inteira. Muitas vezes, desembrulhando a embalagem entregue pela Amazon, tem-se a amarga sensação de ter comprado mais lixo do que produto. Assim, em vez de ser desmaterializada, a forma dos bens deixa os mercados virtuais sobrecarregados por um excedente de externalidades ambientais sob a forma de embalagens.
A logística do comércio electrónico é também extremamente ineficiente do ponto de vista ambiental. Os centros de triagem consomem muita terra e muitas vezes fazem land grabbing (falsificação de documentos para tomar ilegalmente posse de terras devolutas ou de terceiros, ou venda de terras pertencentes ao poder público ou de propriedade particular mediante falsificação de documentos de propriedade da área), as carrinhas das empresas de entrega entopem as estradas e poluem o ar, os serviços de vendas digitais não passam de uma variante exasperada e hiperconsumista do comércio analógico. Com internet, podemos consumir a qualquer hora do dia ou da noite, sem sequer ter de nos levantarmos das nossas cadeiras.
“A ideia de um pacote que miraculosamente aparece à sua porta é muito apelativa”, comenta Subramanian. “Habituámo-nos tão rapidamente a aceitá-lo que não compreendemos realmente o que isso implica”. Não há dúvida de que o comércio digital nos proporciona uma grande economia de tempo, mas como o utilizamos? Quanto do tempo “libertado” é depois utilizado no Facebook ou no Instagram? Internet liberta o nosso tempo e depois volta a pega-lo.
No seu último livro, I bisogni artificiali: come uscire dal consumismo (“As necessidades artificiais: como sair do consumismo”, não encontrei uma edição num outro idioma), o sociólogo ambientalista Razmig Keucheyan assinala que sim, “a Amazon pode ser um gigante digital, mas os bens que distribui são precisamente isso: bens, dotados de uma materialidade concreta”. Em suma, a digitalização das trocas não reduziu em nada a circulação de objectos materiais, pelo contrário. As pessoas online acabam por comprar mais do que precisam, cedem à gratificação instantânea que anula o tempo entre o desejo e a compra, e não conseguem imaginar quantos gastos pode acumular o material que colocamos no carrinho de compras virtual. Os produtos adquiridos com um clique nos mercados digitais percorrem as mesmas rotas que as mercadorias percorrem há séculos, a bordo de navios porta-contentores que navegam pelos oceanos queimando petŕoelo pesado. Foi preciso um destes navios de carga ficar de travesso no Canal de Suez para perceber a absoluta insustentabilidade do tráfego comercial globalizado, que as tecnologias digitais não diminuíram, mas antes fomentaram.
Contra a alienação gerada pela obsolescência dos produtos digitais e o comércio em linha compulsivo, Keucheyan propõe estender o anti-capitalismo aos objectos. “O nosso problema hoje”, escreve, “é evitar a revolução contínua das coisas, interromper a corrida precipitada que incessantemente substitui o último gadget por um novo, que também é imediatamente atingido pela obsolescência e atirado como os seus predecessores para o desperdício da história material”. A fim de abrandar o esquecimento e a incessante renovação dos bens digitais é necessário emancipá-los das necessidades capitalistas de acumulação, concebendo bens que sejam desde o início mais robustos, desmontáveis, modulares (cada componente “deve ser utilizável e substituível separadamente”), interoperáveis (“componentes e software devem ser tecnologicamente compatíveis com os de outras marcas”) e evolutivos (“incorporar na sua concepção as futuras evoluções tecnológicas”).
Emancipa-se, portanto, aqueles bens para os quais o equilíbrio de poder entre o valor de utilização e o valor de troca volta a favorecer o primeiro, como no caso do Fairphone, o smartphone concebido pelos criadores com a intenção de minimizar o seu impacto ambiental e maximizar o seu ciclo de vida. A fim de desengatar a dialéctica entre o antigo e o novo que sustenta a economia digital, seria então necessário prolongar a garantia que cobre os produtos, favorecendo um desejo de durabilidade que é inerentemente natural no consumidor médio. “A garantia não parece ser grande coisa”, sugere Keuchayan, “mas é uma poderosa alavanca para a transformação económica e, consequentemente, política”. E acrescenta: “passar para dez anos [de garantia] levar-nos-ia para outro mundo, a forma da mercadoria seria perturbada”.
A fim de travar o crescimento insustentável das tecnologias digitais, precisamos de medidas políticas (tais como a extensão da garantia legal) que sejam ambiciosas e de modo algum óbvias, mas longe de serem implausíveis. Sessenta por cento dos bancos nacionais, por exemplo, estão a considerar entrar no mercado das moedas criptográficas, e 14% já estão a testar a possibilidade de voltar a colocar este ramo das tecno-finanças sob controlo estatal: algo que teria o efeito de travar a proliferação especulativa dos “mineiros” privados e ofereceria maiores garantias sobre a redução obrigatória das emissões para todo o sector.
Planeamento de desenvolvimentos tecnológicos, regresso ao valor de utilização das coisas, gestão ética do fim de vida dos objectos: são os primeiros e fundamentais passos para assegurar que a revolução digital seja verdadeiramente seguida por uma revolução ambiental. Uma transição necessária porque o mundo da indústria informática e da economia digital assim como está não é sustentável hoje e o será ainda menos no futuro. O digital pode fazer muito mas, como todas as invenções do Homem, é uma faca com dois legumes (sei que é “gumes” mas gosto mais assim, desculpem lá mas aquele “gumes” põe-me maldisposto e até um pouco enervado).
Ipse dixit.

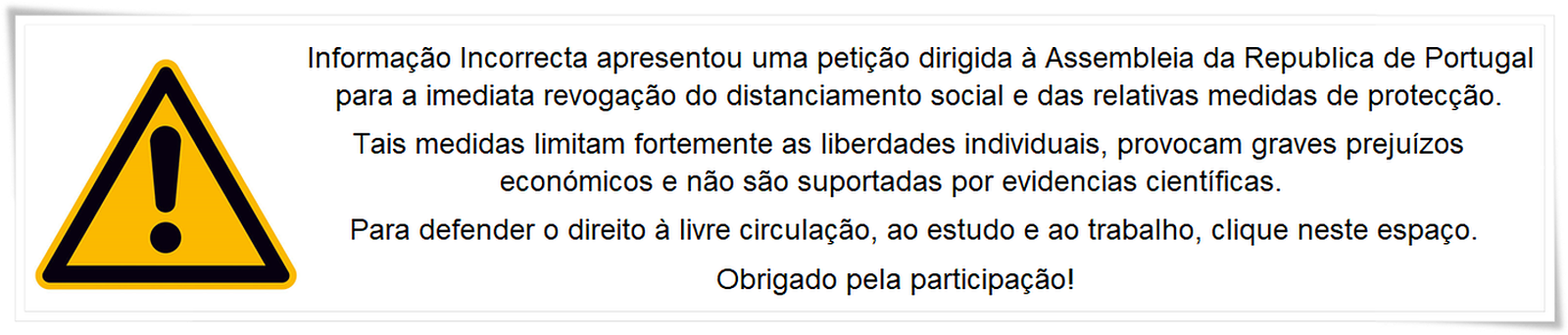
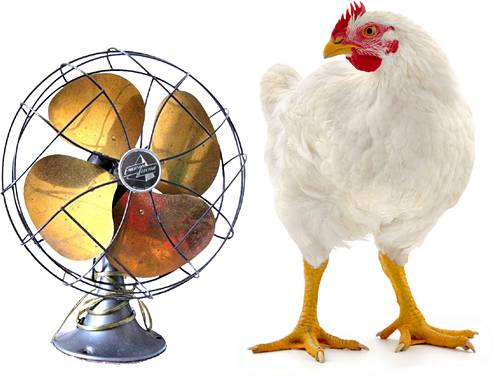
A questão de fundo aqui levantada é a desmaterialização da economia, como por ex. o fim do dinheiro físico, que do ponto de vista de consumo energético é, por agora, uma impossibilidade. Isso é bom.
Sendo eu cada vez mais Vintage, tanto no gosto como na idade, agrada-me saber que nem tudo são favas contadas para determinados percursos da modernidade. A produção de lixo é um grave problema mas, por outro lado, a questão energética é uma condicionante. E, as condicionantes ou se ultrapassam ou então temos de viver com elas.
Eu estava a ler o texto e a pensar nas formas que o sistema tem de lidar com isto, e são diversas. Vou mandar o curriculum para a ‘Blackrock’.
Deus enviou 10 pragas para o Egipto para safar o Moisés e os hebreus, e a elite globalista parece estar também a querer mandar umas pragas para a rapaziada, para se safarem a eles.
Primeiro veio a televisão, depois veio um vírus, de seguida virão uns ataques informáticos que poderão paralisar o mundo inteiro, depois será o clima que está num ponto de não retorno, e por aí fora (aceitam-se sugestões de pragas).
O grande problema é a má vontade política em geral quando se fala em reciclagem, ninguém quer que seja feito o reaproveitamento de qualquer coisa, inventaram esse papo de grande recomeço (great reset), tudo coloquio amolecido para bovinos ressonarem, no Brasil temos uma lei especial para resíduos sólidos urbanos (nome bonito para lixo) perfeita , só que prefeito algum coloca em prática, tipo, lei que não “pega”, brasilidades, quanto a energia elétrica, novas fontes virão em breve, não será a causa do fim, quanto ao lixo. . .
Concerteza que o modelo digital actual tem defeitos , muito bem observados pelo autor , porém gostaria de ouvir do mesmo autor quais as alternativas propostas para melhorar o sistema , porque o exercício de criticar apenas para criticar parece me um pouco redutor, quase fundamentalista …e no fim ficamos com a amarga sensação de que a única alternativa possível para a nossa civilização será um suicídio coletivo .
Faz muitos anos, encontrei uma foto numa revista que nunca mais saiu da minha cabeça. Africa, não me lembro o país, um córrego apinhado de televisores e outras utilidades metálicas tomando conta de metade de uma margem. Ali brincavam crianças, ali mulheres lavavam roupa e enchiam baldes de água levando-as para casa.
Entre outras coisas o cinismo dos depositantes da sujeira, colhidos no crime, que diziam ao reporter que o envio era útil para aquela gente pois eles podiam ocupar o tempo “reciclando os materiais”.
Enquanto lia o artigo, pensava naqueles pretos pobres e sujos. Que terá sido deles? Quantas montanhas de “material reciclável” estarão sendo depositadas em córregos assim naquele lugar?
E não só, no fundo do mar, para os peixes “ocuparem o tempo reciclando”, nos lixões para os corvos reciclarem, nos lugares ermos do planeta.
Alternativas existiriam muitas , e o artigo fala delas, Lopes. falta vontade política, responsabilidade social: sobra só acumulação de riqueza dos responsáveis pela produção, comércio e transporte.
Outras pragas, Krowler : perda da memória nos humanos, confusão e desconhecimento generalizado nos humanos… Acho que estas são as piores.