Primeiro artigo dedicado à questão judaica na vertente histórica. Normal começar com as palavras de Benjamin Freedman.
Benjamin Harrison Freedman era um empreendedor americano, nascido duma família hebraica, mais tarde convertido ao Catolicismo. Ficou conhecido por duas razões: o sucesso alcançado na sua actividade e as posições anti-sionistas. No âmbito comercial, Freedman adquiriu uma empresa de produtos dermatológicos, a Woodbury Soap Company, e conseguiu torna-la uma referência do mercado, com publicidades interpretadas por star de Hollywood como Leslie Caron, Ava Gardner, Judy Garland, Veronica Lake, Myrna Loy, Elizabeth Taylor e Esther Williams. Mas aqui o que interessa é a vertente política: Freedman foi um feroz anti-sionista e anti-comunista.
Para entender o pensamento de Freedman é possível espreitar o trabalho dum jornalista de renome, alguém que dedicou boa parte da sua vida profissional à tentativa de entender quais os mecanismos, explícitos ou ocultos, que gerem a política da nossa sociedade. O jornalista e escritor é Maurizio Blondet, já enviado especial dos diários Il Giornale, La Padania, Oggi, director da revista de estudos católicos Certamen.
Blondet não é uma fonte imparcial: declaradamente católico, em 1993 o nome dele foi incluído na lista dos jornalistas anti-semitas pela Anti-Defamation League por causa de vários artigos nos quais tinha evidenciado as origens hebraicas de alguns conspiradores e o papel destes no hebraísmo internacional. Na realidade, Blondet não é um anti-semita mas um anti-sionista, contrário à política do Estado de israel. Todavia, em Blondet são presentes todos os excessos típicos de quem apoia uma leitura unidirecional da realidade, presente ou passada: neste caso, o objectivo de israel é a conquista do mundo e o estabelecimento do reinado do Anticristo.
O que vamos a ler é um resumo das ideias de Benjamin Freedman assim como publicadas no livro Israele, USA, Il Terrorismo Islamico: um volume que é a continuação de 11 Settembre colpo di Stato in USA (“11 de Setembro Golpe nos EUA”), Chi comanda in America (“Quem manda nos EUA”) e Osama Bin Mossad. Em primeiro plano, o gigante americano e, nas sombras, o judaísmo internacional com o impiedoso braço militar de israel, ignorado pelo resto da humanidade por causa da superficialidade, da ignorância, da covardia e da ganância por dinheiro e poder. O trecho foca-se no período histórico vivido em primeira pessoa por Freedman, do qual Blondet casa de forma acrítica os pontos de vistas: no centro das atenções, o discurso que Freedman pronunciou em 1961, no Hotel Willard, em Washington, reportado de forma fiel.
Para quem gostar de efeitos especiais, no final da segunda parte do artigo é presente o vídeo do discurso, legendado em bom português.
O discurso de Benjamin Freedman
Benjamin Freedman era um homem de negócios bem sucedido (era o proprietário da Woodbury Soap Co.). Nascido em New York, judeu, patriota americano, Benjamin Freedman – que tinha sido um membro da delegação americana ao Congresso de Versailles em 1919 – rompeu com o judaísmo organizado e com os círculos sionistas após 1945, acusando-os de terem favorecido a vitória do comunismo na Rússia.
A partir de então, dedicou a sua vida e a sua fortuna considerável (2.5 milhões de Dólares na época) para combater e denunciar os enredos dos seus correligionários. Em 1961, Benjamin Freedman deu, no Willard Hotel em Washington, a uma influente audiência reunida pelo jornal americano Common Sense, o seguinte discurso:
“Aqui nos Estados Unidos, Sionistas e seus correligiosos têm total controlo do nosso governo. Por muitas razões, muitas e muito complexas para entrar em detalhes aqui agora, os Sionistas e seus correligiosos reinam nos Estados Unidos como se fossem os monarcas absolutos deste país. Agora você pode dizer que esta é uma alegação muito ampla, mas deixe-me mostrar o que aconteceu enquanto nós estávamos adormecidos.
O que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial eclodiu no Verão de 1914. Há algumas pessoas aqui da minha idade que se lembram disto. A guerra era travada de um lado pela Grã-Bretanha, França, e Rússia; e doutro lado pela Alemanha, Áustria-Hungria, e Turquia.
Em dois anos a Alemanha tinha ganho a guerra: não só de forma nominal, mas ganharam realmente. Os submarinos alemães que eram uma surpresa para o mundo, varreram os comboios do Oceano Atlântico. A Grã-Bretanha estava sem munições para os seus soldados, com suprimentos para uma semana – e após isso, a fome. Ao mesmo tempo, os exércitos franceses revoltaram-se, perderam 600.000 jovens na flor da idade na defesa de Verdun na Somme. O exército russo estava a desertar, pegavam nas suas coisas e iam andando para casa, não queriam brincar mais à guerra, não gostaram do Czar. E o exército italiano tinha capitulado [Caporetto, ndt].
Nem um único tiro tinha sido desferido em solo Alemão. Nem um único soldado tinha cruzado a fronteira da Alemanha. E, mesmo assim, a Alemanha oferecia à Inglaterra a paz. Eles ofereceram à Inglaterra a paz negociada no que os advogados chamam de status quo ante bellum. Isto quer dizer: “Vamos cessar a guerra e repor tudo como era antes da guerra”. A Inglaterra, no Verão de 1916 estava a considerar seriamente a proposta. Não tinham escolha. Era ou aceitar a paz negociada que a Alemanha generosamente oferecia, ou continuar a guerra e ser totalmente derrotada. Enquanto isto acontecia, os sionistas na Alemanha, que representavam os sionistas do leste europeu, foram até o Escritório de Guerra Britânico e – vou ser breve porque é uma longa história, mas tenho todos os documentos que provam qualquer coisa que eu disser – disseram: “Vejam, vocês ainda podem ganhar esta guerra. Vocês não têm que desistir. Vocês não têm que aceitar o acordo de paz oferecido pela Alemanha. Vocês podem ganhar esta guerra se os Estados Unidos entrarem como vosso aliado”.
Os Estados Unidos não estavam em guerra nessa altura. Nós éramos fortes, nós éramos jovens; nós éramos ricos; nós éramos poderosos. Eles disseram a Inglaterra: “Nós iremos garantir a entrada dos Estados Unidos na guerra como seu aliado, para lutar com vocês ao vosso lado, se vocês prometem a Palestina após ganhar esta guerra”. Em outras palavras, fizeram este acordo: “Nós iremos trazer os Estados Unidos como vosso aliado. O preço que vocês têm de pagar é a Palestina após vencer a guerra e derrotar Alemanha, Áustria-Hungria, e Turquia”. Agora, a Inglaterra tinha tanto direito de prometer a Palestina à qualquer um quanto os Estados Unidos podem prometer ao Japão a Irlanda seja por qual razão for.
É absolutamente absurdo que a Grã-Bretanha, que nunca teve nenhuma conexão ou interesses ou qualquer direito no que é conhecido como Palestina a oferecê-la como moeda para pagar os sionistas pela entrada dos Estados Unidos na guerra. No entanto, eles fizeram esta promessa, em Outubro de 1916. E pouco após disto – não sei quantos aqui se lembram disto – os Estados Unidos, que eram quase que totalmente pró-Alemanha, entraram em guerra como aliados da Grã-Bretanha. Eu digo que os Estados Unidos eram quase totalmente pró-Alemanha porque os jornais aqui eram controlados por judeus, os banqueiros eram judeus, toda os meios de comunicação de massa neste país eram controlados por judeus; e eles, os judeus, eram pró-Alemanha. Eles eram pró-Alemanha porque muitos deles vieram da Alemanha, e também queriam ver a Alemanha destruir o Czar, não queriam que a Rússia ganhasse esta guerra. Estes alemães-judeus banqueiros, como Kuhn & Loeb e outras grandes firmas bancárias nos Estados Unidos, recusavam a financiar a França ou Inglaterra com um Dólar sequer. Ficaram de fora e disseram: “Enquanto a França e e Inglaterra estiverem juntos com a Rússia, nem um centavo!” Mas eles atiraram dinheiro para a Alemanha, lutaram ao lado da Alemanha contra a Rússia, tentando destruir o regime Czarista. Agora estes mesmos judeus, quando viram a possibilidade de ocupar a Palestina, foram até a Inglaterra e fizeram este acordo.
Nesta altura, tudo mudou, como um sinal de trânsito que muda de vermelho para verde. Onde os jornais eram todos pró-Alemanha, diziam ao povo das dificuldades que a Alemanha tinha na luta comercial contra a Grã-Bretanha e em outros aspectos, de uma hora para outra os Alemães não eram bons. Eram vilões. Eram Hunos. Estavam a atirar contra as enfermeiras da Cruz Vermelha. Estavam cortar as mãos dos bebés Não eram bons. Pouco depois disto, o Sr. Wilson declarou guerra à Alemanha. Os sionistas em Londres entraram em contacto com os Estados Unidos, com Justice Brandeis, para dizer “Vá a trabalhar o Presidente Wilson. Nós estamos a ter da Inglaterra o que queremos. Agora vá trabalhar o Presidente Wilson e traga os Estados Unidos para a guerra”. Foi assim que o Estados Unidos entraram em guerra.
Nós não tínhamos interesses nisto; não tínhamos mais direito de estar nisso do que estar na lua hoje ao invés desta sala. Não havia absolutamente nenhuma razão para a Primeira Guerra Mundial ser a nossa guerra. Nós fomos despejados nela – se eu posso ser vulgar, nós fomos sugados para dentro dela –, esta guerra era meramente para que os sionistas do mundo pudessem obter a Palestina. Isso é algo que o povo dos Estados Unidos nunca ficou a saber. Nunca souberam o porquê de nós entrarmos na Primeira Guerra Mundial.
Após termos entrado nesta guerra, os sionistas foram até a Grã-Bretanha e disseram: “Bom, nós fizemos a nossa parte do acordo. Deixe-nos ter algo escrito que mostre que vocês vão manter a vossa palavra e dar-nos a Palestina após ganhar a guerra”. Eles não sabiam se a guerra iria durar mais um ano ou dez anos. Então começaram a elaborar uma receita. A receita tomou a forma de uma carta, que foi codificada numa linguagem bem encriptada para que o mundo não soubesse do que se tratava. E foi baptizada de Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour era meramente a promessa da Grã-Bretanha de pagar aos sionistas o que estava estabelecido com o acordo para trazer os Estados Unidos à guerra. Então esta era a Declaração de Balfour, da qual você ouve tanto falar, é tão falsa quanto uma nota de três Dólares. Eu não sei como poderia enfatizar mais isso. Foi aí que o problema todo começou. Os Estados Unidos entraram em guerra.
Antes de continuar, algumas breves notas.
A Declaração de Balfour não é “falsa” nem tão obscura: é bastante explícita tanto nas intenções quanto nos identificar os destinatários. Eis o texto original:
Caro Lord Rothschild,
“Tenho o grande prazer de endereçar a V. Sa., em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada:
`O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um Lar Nacional para o Povo Judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não-judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país.´
“Desde já, declaro-me extremamente grato a V. Sa. pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista.“Arthur James Balfour.”
Também a reconstrução histórica de Freedman está longe de ser completa. Os Estados Unidos tinham assumido uma postura de clara neutralidade em relação ao conflito na Europa, todavia a Alemanha sabia que a América apoiava financeiramente a França e a Grã Bretanha.
Em particular, importante foi o papel da J.P.Morgan que, desde 1914 até 1917, isso é, até a entrada em guerra dos EUA. Em 1913, J. P. Morgan Jr. tinha assumido a House of Morgan, um banco de investimento com sede nos EUA que executava operações bancárias separadas em New York, Londres e Paris. A House of Morgan ofereceu financiamentos em tempo de guerra à Grã-Bretanha e à França desde os primeiros estágios da guerra, em 1914: J.P. Morgan & Co., o banco da House of Morgan, foi eleito como principal agente financeiro do governo britânico em 1914, depois de pressões bem-sucedidas do embaixador britânico Sir Cecil Spring Rice. O mesmo banco teria mais tarde um papel semelhante na França.
Estas transações financeiras dos bancos americanos na Europa provocaram tensão entre Wall Street e o governo. O secretário de Estado William Jennings Bryan opôs-se ao apoio financeiro aos Países beligerantes em Agosto de 1914: Ele disse ao presidente Wilson que “a recusa em financiar qualquer beligerante tenderia naturalmente a ter uma conclusão da guerra”. Wilson concordou inicialmente, mas depois decidiu fazer marcha atrás e permitiu que os financiamentos continuassem.
J.P. Morgan emitiu empréstimos para a França, incluindo um em Março de 1915; e, após negociações com a Comissão Financeira Anglo-Francesa, outro empréstimo conjunto para Grã-Bretanha e França em Outubro de 1915, no valor de 500.000.000 Dólares. Embora o facto de travar a assistência financeira poderia ter acabado com a guerra e, portanto, salvar vidas, a pressão dos governos aliados e os interesses comerciais americanos prevaleceram. Não podemos esquecer que Washington lucrava, e não pouco, com a guerra: na altura do final do conflito, em 1918, a Bethlehem Steel tinha produzido 65 mil libras de produtos militares forjados e 70 milhões de libras de chapas de blindagem, mais 1.1 bilhão de libras de aço para projéteis e 20.1 milhões de cartuchos de munição de artilharia para a Inglaterra e a França.
Voltando aos financiamentos: a ideia defendida por Freedman, segundo o qual os bancos americanos recusaram financiar França ou Inglaterra (“Enquanto a França e a Inglaterra estiverem juntos com a Rússia, nem um centavo!”) é desmentida pelos factos. A Tríplice Entente, a aliança militar entre Reino Unido, França e Império Russo tinha sido assinada já em 1907.
Foi este apoio (não apenas financeiro) que convenceu a Alemanha a declarar em Janeiro de 1917 a guerra submarina irrestrita, peça fundamental na entrada em guerra dos Estados Unidos. Com esta decisão, todos os navios neutrais encontrados numa zona de guerra teriam sido afundados: a esperança era neutralizar os transportes de material bélico desde América até os aliados europeus. Ao mesmo tempo, Berlim esperava que a acção dos submarinos conseguisse quebrar o domínio naval britânico dos mares (total após a Batalha do Jutland).
Ao mesmo tempo houve o caso do Telegrama de Zimmerman.
A Alemanha vinha perseguindo vários interesses no México desde o início do século XX. Embora em atraso (Espanha, Grã-Bretanha e França tinham-se estabelecido na área séculos antes), a Alemanha do Kaiser tentou assegurar uma presença contínua. A diplomacia alemã na área dependia das relações com o governo mexicano da época e entre as opções discutidas durante o período de Arthur Zimmermann, Secretário de Estado para os Assuntos Estrangeiros, estava a oferta alemã para melhorar as comunicações entre as duas nações e uma sugestão de que o México comprasse submarinos alemães para a sua marinha. Depois dos ataques transfronteiriços de Francisco Villa ao Novo México, o Presidente Wilson enviou uma expedição punitiva ao México para perseguir os atacantes.
Isso encorajou os alemães a acreditar que essa e outras preocupações dos EUA na área poderiam atrapalhar os recursos e as operações militares de Washington por algum tempo, o suficiente para justificar as propostas feitas por Arthur Zimmermann no seu telegrama ao governo Venustiano Carranza. As suas propostas incluíam um acordo para uma aliança alemã com o México, enquanto a Alemanha ainda tentaria manter um estado de neutralidade com os Estados Unidos. Se esta política falhar, o governo mexicano deveria ter feito causa comum com a Alemanha, tentar persuadir o governo japonês a juntar-se à nova aliança e atacar os EUA. A Alemanha, por sua vez, prometeria assistência financeira e a restauração dos antigos territórios mexicanos do Texas, Novo México e Arizona.
Tudo isso após a eventual entrada em guerra dos Estados Unidos, não antes. Entretanto, Carranza avaliou a proposta e chegou à conclusão de que não teria funcionado: assumiu que os três Estados quase certamente teriam provocado problemas futuros e, possivelmente, uma guerra com os EUA; O México também seria incapaz de acomodar uma grande população anglo-saxónica dentro das suas fronteiras e a Alemanha não teria sido capaz de fornecer as armas necessárias nas hostilidades. Portanto, Carranza recusou as propostas de Zimmermann em 14 de Abril de 1917.
Isso aconteceu após Zimmermann ter passado o ano de 1916 na tentativa de estabelecer a paz com a Grã Bretanha. No final de Junho de 1917, Zimmermann encontrou a primeira oportunidade para reabrir o caminho das negociações: em várias reuniões com o núncio bávaro Eugenio Pacelli (mais tarde, Papa Pio XII) e Uditore Schioppa, que estava numa missão de investigação, o chanceler Bethmann-Hollweg e Zimmermann esboçaram os seus planos. Não haveria anexações de territórios, nenhum ajuste de fronteiras com a Rússia, a Polónia permaneceria como um Estado independente, todas as áreas ocupadas da França e da Bélgica seriam evacuadas e a Alsácia-Lorena seria cedida à França. A única exceção era a restituição de todas as ex-colónias alemãs à Alemanha. Nenhum desses planos, todavia, foi aceite por Londres.
Mais uma frase do discurso de Freedman:
Os Estados Unidos esmagaram a Alemanha. Você sabe o que aconteceu.
Em Abril de 1917, com a declaração de guerra contra a Alemanha, o governo dos EUA iniciou uma ampla campanha de recrutamento, com a intenção de enviar o mais rapidamente possível uma força à Europa sob o comando do general John Pershing. Por algum tempo, entretanto, os voluntários trabalhavam como funcionários auxiliares (médicos, enfermeiros e motoristas) e bem poucos soldados de infantaria, artilheiros ou pessoal da força aérea.
As primeiras Missões Militares dos EUA tiveram a tarefa de colaborar na criação de uma rede de serviços logísticos para apoiar as actividades de guerra, sem engajar diretamente na linha de frente, pelo menos até a chegada da maior parte das forças armadas.
O primeiro contingente americano preparado para a guerra chegou à França em Outubro de 1917. A maioria dos soldados recém-desembarcados pertencia ao Corpo de Fuzileiros Navais (I Divisão), os únicos a serem considerados bem equipados e treinados, pois, até então, as forças armadas americanas eram baseadas exclusivamente em poucos profissionais assalariados. É evidente, portanto, que, ao entrar em guerra, as tropas disponíveis eram poucas e o equipamento insuficiente. De facto, as primeiras unidades foram parcialmente equipadas com materiais britânicos (nem fardas ou capacetes tinham). Só posteriormente, com os novos alistamentos voluntários, o número de soldados enviados para a frente cresceu gradualmente, embora deixando um profundo desapontamento entre os comandos militares aliados que esperavam um compromisso mais massivo e imediato.
Nas fases iniciais das operações, além disso, o compromisso militar americano era apenas esporádico e mais experimental, já que os fuzileiros navais não tinham experiência para a guerra de trincheiras. Portanto, depois que as tropas americanas se deram uma primeira organização ao sul de Paris, foram submetidas a um programa de treino técnico e teórico realizado por oficiais franceses e britânicos. E foi só em Novembro de 1917 que o general Pershing permitiu um primeiro emprego na frente, mas apenas com um batalhão de cada vez, que teve que passar dez dias junto com as tropas francesas. O ciclo de treino acabou em Janeiro de 1918, portanto, seis meses após a chegada dos americanos na Europa, e só então foi possível atribuir um setor autónomo da frente. Enquanto isso, no final de 1917, outros contingentes do Exército dos EUA tinham chegado: a 2ª Divisão, composta de metade dos fuzileiros navais e metade das tropas regulares; o XXVI “Batalhão da Guarda Nacional da Nova Inglaterra”; O XLII Batalhão da “Divisão do Arco-Íris”.
No final das hostilidades, as tropas americanas presentes nas várias frentes da Europa chegarão a cerca de dois milhões. Um número ridículo se comparados aos efectivos dos outros Países beligerantes: só a Italia tinha mais de 5 milhões de soldados, 8 milhões eram os franceses, quase 9 milhões os ingleses; e, do outro lado, 25 milhões de unidades (Alemanha, Austro-Húngria, Bulgaria e Império Otomano).
A ideia de que os Estados Unidos “esmagaram” a Alemanha não tem cabimento, assim como a suposição dos financiamentos bancários terem parado até 1917 por causa dos sionistas. Conselho: não sigam apenas os sionistas, sigam sobretudo o dinheiro (commodities), caso contrário torna-se difícil entender tudo.
Nota para a Declaração de Balfour, à qual será dedicado um novo artigo e que permanece qual obra-prima da diplomacia sionista e eterna vergonha da Coroa Britânica. Mas disso voltaremos a falar. Por enquanto é preciso acabar o discurso de Ben Freedman, na segunda e última parte do artigo.
Ipse dixit.
Fontes: inúmeras, é só pegar num bom livro de História em vez que ler só páginas sobre os sionistas.

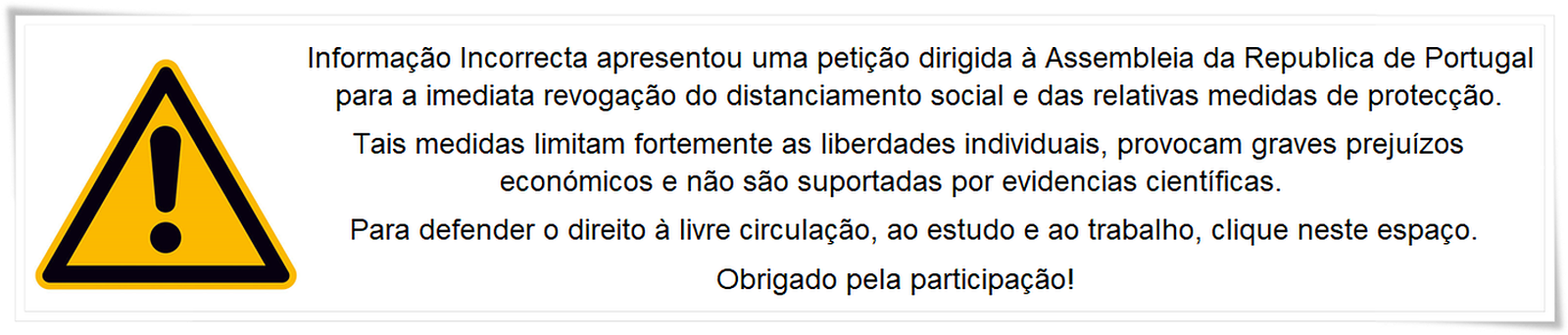

Seguir o dinheiro é seguir os sionistas, o problema que não apenas eles. Seguir a política beligerante é seguir os sionistas, não ´só eles. Seguir os interesses internacionalistas é seguir os sionistas, não sempre eles.Seguir a filantropia enganosa é seguir os sionistas, nem tanto eles. Não dá para deixar de concluir que uma população de 15 a 20 milhões de cabeças judaicas neste planeta participa ativamente da desgraça de bilhões de criaturas. Isto é o que eu chamo de coisa incrível porque tendência e práticas ligadas à trapaça, à mentira, ao anonimato, à selvageria, à vitimização, ao racismo descomunal, ao roubo, ao estelionato, à agiotagem…estes gajos e suas tradicionais famílias de bem, não são os únicos.
Maria, quantos são os judeus no mundo? !5 milhões? 20 Milhões?
Quantos somos nós, que diariamente mantemos em vida este sistema injusto e assassino? Quantos entre nós fica minimamente preocupado das crianças que trabalham 12 horas pro dia para extrair os metais necessários aos nossos smatphone, que todos nós temos? Quantos entre nós ficam preocupados com o custo real (em termos de guerra, direitos atropelados, prejuízos ambientais, etc.) dum litro de gasolina? O nosso egoísmo fica na conta dos sionistas também?
Um exemplo prático? Quantos entre nós ficam revoltados com a violência de israel contra a Palestina? E quantos destes “nós” revoltados mexe um dedo, faz algo de concreto em prol dos injustiçados? Esta nossa não-acção, que não deixa de ser soberanamente hipócrita, é culpa dos sionistas também?
Agora, junta as duas coisas: dum lado temos biliões de pessoas que vivem numa condição de bem-estar (acima da sobrevivência, entendo) e trabalham a cada dia para que o sistema continue tal como é. Doutro lado temos uma realidade onde amaldiçoamos os sionistas mas, do ponto de vista meramente prático, apoiamos as escolhas deles (porque não intervir significa permitir).
O bicho-papão sionista não é suficientemente amplo para esconder todas as nossas responsabilidade.
Grande abraçoooooooooooo!!!!!!
Max, sei que fiz alguma coisa proveitosa nesta vida assim como tu também fazes. Também fiz tentativas idiotas que muito me frustam. Talvez o mesmo tenha acontecido contigo, mas o que sabemos um do outro nos dá a certeza que alguma coisa fizemos. Porque? Acaso somos melhores que outros? Acho que sim,menos egoístas. Mas fundamentalmente porque escapamos do rebanho que pensa e age de acordo com o que querem que pensem e ajam. Quem tornou a humanidade em geral rebanho? As religiões e seus arautos? Sem dúvida, todas.Mas surgiram as disciplinas acadêmicas, cujos mentores torceram os desviantes? Quem foram eles, tu sabes. Surgiu a propaganda travestida de mídias, imprensa, discursos, recreação, jogos. Quem colocou essa fanfarnália a funcionar em atenção aos interesses dos poderosos na disseminação da ignorância? Sabemos (Goebels era um idiota, imitador e bajulador, que não tinha capacidade para inventar coisa nenhuma). Acho que é possível reconhecer que os judeus são inteligentes, perspicazes, determinados, pacientes, e dotados de um egoísmo sem igual? Mas suponho que há um segmento entre eles que eleva essas ‘QUALIDADES A ENÉSIMA POTÊNCIA”. São os milionários entre eles e os milionários de outras estirpes também. Como eu gostaria de saber destas aproximadamente 300 famílias que transformam o planeta em inferno, quais são as judias? Pelo menos eu poderia afirmar se são os determinantes, tanto quanto, ou menos determinantes.
Quanto a estes inertes que tu falas, eu sei quem são. E, dentre eles, os rebeldes, os diferentes, os desviantes também sei.
Grande abraço Sempre
Servidão mental = formação de um indivíduo, desde a 1ª infância, cujos valores seniores são estabelecidos (e não escolhidos) por segmentos dominantes.