Como será o futuro próximo?
Ninguém tem a bola de cristal, mas é verdade que a actualidade deixa vislumbrar alguns indícios. Não provas, apenas indícios. E a diferência é substancial. Mas há indícios e indícios.
Um exemplo: há pessoas que vêem Ufo (ou Onvi, é a mesma coisa) e eu posso utilizar este “indício” para prever que no prazo de 90 dias o mundo será ocupado por uma raça alienígena.
Outro exemplo: o Irão perturba Israel e está cheio de recursos naturais, Israel é amigo dos Estados Unidos, os Estados Unidos gostam de “ocupar” (de facto ou mais discretamente) os Países cheios de recursos energéticos. Uso estes “indícios” para prever uma guerra no prazo de poucos meses.
Qual das duas hipóteses terá mais possibilidade de tornar-se realidade?
A terceira: os Estados Unidos declaram guerra ao Irão mas são invadidos por uma raça alienígena.
Ok, ok, estava só a brincar…
Dizia: a hipótese que tem mais possibilidade é a segunda, como é óbvio. Mesmo partindo com “indícios” reais tanto no primeiro quanto no segundo caso, a experiência e a história ensinam que uma guerra entre Irão, Israel e os EUA é bem mais provável duma invasão de extra-terrestres.
Ninguém viu uma alienígena e apresentou provas irrefutaveis do acontecimento.
Já todos vimos os Estados Unidos invadir outros Países com recursos energéticos.
Portanto, os indícios não são todos iguais.
E que tipo de indícios temos para tentar descrever um possível futuro próximo?
Li o seguinte artigo ontem e decidi traduzi-lo. Acho um bom exemplo de “futurologia” feita a partir de “pistas”; que não são “provas”, mas que obrigam a pensar.
E mais: este artigo demonstra, ainda uma vez, como para perceber o presente e antecipar o futuro seja indispensável estudar o passado.
Ao juntar os indícios disponíveis com as lições da História, podemos ter um vislumbre do nosso futuro, com boas probabilidades de ter acertado.
Infelizmente.
Carro-bomba em Londonderry, a violência volta na Irlanda do Norte após a paz promovida com os biliões de libras da devolução promovida por Tony Blair. Não se preocupem: o MI5, o serviço segredo interno britânico, disse há dias que as ameaças neste sentido eram claras. Modalidade clássica do acto simbólico: telefonema anónimo em código uma hora antes da explosão, evacuação do local, intervenção da segurança, um estrondo e tudo acabado.
Não pensem num regresso dos problemas dos anos setenta e oitenta: preparar um carro-bomba na Irlanda do Norte é como preparar um café em Portugal. Pelo contrário, é a altura que faz as pessoas pensarem. Exactamente como aconteceu com Departamento de Estado dos EUA que alerta sobre o risco de atentados na Europa, alarme levantado há poucos dias atrás pela Fox, mais do que uma televisão uma verdadeira central de contra-informação republicana.
De repente, depois de meses e meses de silêncio, voltou a ser ouvido até Osama Bin Laden, o placebo de todos os medos, o príncipe de qualquer emergência. E sempre nas mesmas horas, o ouro tocou um recorde de 1.331 Dólares a onça, com os investidores que mergulham de cabeça no jogo: gráficos falam dum ponto de resistência de 1.355 Dólares a onça, assim a especulação não terá ainda muita margem. Porquê?
Talvez porque a corrida será congelada por algo que vai permitir que o metal dourado possa desempenhar até o fundo o papel de porto seguro. Há um forte risco no horizonte: uma nova guerra, real ou ameaçada, pouco importa. A possibilidade da opção militar contra o Irão, na verdade, está a deixar de ser a obsessão apenas para os militares dos Estados Unidos, e está prestes a tornar-se a principal questão para poder reiniciar a economia dum País devastado pela dívida pública, pelos bancos ainda cheios de activos tóxicos e expostos à política suicida da Federal Reserve. De facto, há uma constante na história económica dos Estados Unidos há mais de um século e é a estreita relação entre a intervenção militar e a recuperação económica: instituições governamentais, como o National Bureau of Economic Research, fala claramente de wartime expansions (expansões de guerra) na bibliografia dos próprios estudos.
A ligação entre a guerra e a expansão económica, portanto, e absolutamente certa e recorrente, uma vez que a Segunda Guerra Mundial que foi a real dínamo da recuperação dos EUA após a crise de ’29. Isto foi confirmado um par de anos atrás pelo Prémio Nobel de Economia, Peter North:
Não saímos da depressão com a teoria económica, saímos graças à Segunda Guerra Mundial
Durante a New Deal de Roosvelt a despesa pública tinha passado dos 10,2 biliões de Dólares em 1929 para 17,5 em 1939: pena que no mesmo período o PIB caiu dos 104,4 para 91,1 biliões de Dólares e a taxa de desemprego subiu de 3,2% para 17,2%. (E ainda há quem fique com lágrimas de comoção só ao nomear New Dial…a história e as escolas nada ensinam, NDT)
 |
 |
|
Desde 1939, o cenário muda: o sistema económico é reforçado pela venda de armas aos Britânicos e Franceses (mas também para os Nazistas) e, finalmente, com a entrada directa dos EUA na guerra: PIB em crescimento e desemprego zero. O mesmo vale para a Guerra da Coréia, uma panaceia para lutar o regresso da recessão nos EUA em 1949. No Verão do ano seguinte, a explosão do conflito garante um forte impulso para o rearmamento: os Países da Nato triplicam em apenas três anos os gastos militares, que passam dos 38 biliões em 1949 para os 108 biliões de Dólares em 1952.
Mas a parte de leão é dos Estados Unidos, cujas despesas militares no biénio 1952-1953 atingem 15% do PIB. Outra crise, outra guerra, outro presente. Em 1961, quando John F. Kennedy chegou à presidência, os EUA encontravam-se há bastante no meio duma crise económica. A resposta foi o aumento da despesa pública; pena que muitas vezes não é especificado que 82% deste aumento foi nas despesas militares: o valor das armas vendidas pelos EUA aumentou seis vezes em seis anos. Mas será sobretudo a Guerra do Vietname, e os relativos gastos militares, mais do 10% do PIB, a revitalizar a economia americana. Que, de facto, desde 1964 conhece uma das maiores expansões da própria história e que até foge das recessões que nos mesmos anos afligem a Europa.
E depois a presidência Carter com a ocasião da invasão soviética do Afeganistão, no dia 24 de Dezembro de 1979: já no número de Business Week de 21 de Janeiro de 1980, falava-se explicitamente de “Nova economia da Guerra Fria” e previa-se um forte aumento dos gastos em armamentos. O que aconteceu, óbvio. Mas a aceleração ficou frenética com a chegada de Ronald Reagan e a criação dum novo pesadelo de guerra, a Guerra Estrelar e o consequente “escudo espacial”. As despesas militares no período 1981-1985 cresceram 7% em cada ano, enquanto a quota dos gastos militares no orçamento federal cresceu de 23% para 27%: mais uma vez, as despesas em armamentos são jogadas em chave recessiva.
Mas o fim da URSS e do contraste entre os blocos não pára a lógica do warfare better than welfare (estado de guerra melhor do bem-estar): o” Grande Satã “já não é o comunismo, mas Saddam Hussein, ex-aliado importante do Ocidente na guerra contra o Irão, que em Agosto de 1990 tem a brilhante ideia de invadir o Kuwait. A resposta é uma guerra, primeiro com bombardeiros, depois com uma intervenção terrestre directa do exercito dos EUA (16 de Janeiro – 28 de Fevereiro de 1991). Neste caso, a guerra não é apenas uma bênção para a indústria da guerra, sendo que com a missão os EUA consolidam o domínio sobre os recursos petrolíferos do Golfo Pérsico.
O cientista político norte-americano Samuel Huntington, o inventor do “choque de civilizações”, resumiu as apostas e os resultados da guerra:
No final do conflito, o Golfo Pérsico tornou-se um lago americano
O mês seguinte ao fim da guerra não só terminou a última recessão dos Estados Unidos (menos a actual, obviamente), mas pela última os Washington podem apresentar um superavit, algo como 3,7 biliões de Dólares. E a seguir, a primeira grande guerra da época da guerra contra o terror.
Este é o texto dum relatório da Morgan Stanley, carregado no site da empresa às 7h30 de Terça-Feira 11 de Setembro de 2001:
O que pode reduzir drasticamente o deficit americano e desta forma eliminar os riscos mais significativos para a economia dos EUA e do Dólar? A resposta é: um acto de guerra
Uma hora mais tarde, os funcionários do banco de investimento conheceram o acto directamente nos seus escritórios localizados nas Torres Gémeas. A guerra, ou melhor, a necessidade paradoxal da guerra como dínamo económico, estava no ar antes do ataque em New York. Em Janeiro de 2001, um relatório do Foreign Policy em Focus advertia que os gastos militares dos EUA tinham aumentado, de 291 biliões de Dólares em 1998 para 310 biliões previstos para o orçamento de 2001: este valor era equivalente a cerca de 90% da despesa média dos Estados Unidos nos anos da Guerra Fria e era 16% das despesas totais orçamentadas dos EUA (e 50% dos discricionária). Não só isso, mas o montante gasto em armas pelos EUA era maior de quanto gastavam todos os aliados e todos os possíveis “inimigos” dos EUA juntos. E agora, o relatório argumentava “muitos Americanos estão a questionar a utilidade de dar recursos adicionais para esta área, na ausência de ameaças criveis à segurança dos EUA e perante a paz relativa que prevalece no mundo.”
Alguns meses e que a necessidade tornou-se evidente. Os gastos militares, na realidade, são uma forma de despesas pública para reactivar a economia: representam uma forma de deficit spending, ou seja, uma das maneiras pelas quais o Estado financia a economia (até pedindo empréstimos) e representam especialmente a forma mais conveniente. O warfare, vamos chama-lo “estado de guerra”, pode ser facilmente gasto em chave keynesiana, pois perante a questão da segurança nacional ninguém irá opor prejudiciais contra a intromissão do governo na economia. Além disso, as despesas em armamentos intervêm na economia de maneira que o sector está protegido da concorrência externa e, desta forma, os benefícios ficam todos para americanas.
E mais: o lucro das empresas alimentadas pelos gastos militares é muito maior daquilo das empresas produtoras de armas: é só pensar no caso do gigante da comida enlatada Campbell, tornado “gigante” com as encomendas militares e não pelo molho de feijão vendido nos supermercados. Ou pensamos ao sector da indústria aeroespacial, da indústria electrónica (hardware e software), da indústria de novos materiais: não é por acaso que, depois do atentado das Torres Gémeas, os títulos de muitas empresas informáticas cresceram em poucas semanas até do 30 – 40%.
E que dizer do facto de que, de acordo com os dados do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos, os EUA em 1998 produziram mais de 40% das armas vendidas no mundo? Ou do facto de que os militares dos EUA, desde o primeiro acordo Gatt em 1947, gozam da national security exception (“excepção de segurança nacional”)? Em outras palavras, as práticas de proteccionismo e subsídios à exportação que não são permitidas para outros sectores são lícitos para a indústria das armas. E, ainda, as armas podem ser também “alugadas”, como aconteceu no caso da Guerra do Golfo, na qual os aliados dos norte-americanos (incluindo a Arábia Saudita) tiveram de pagar, como uma “contribuição para os custos” , algo como 18,9 mil biliões de Euros, o equivalente a 90% das despesas suportadas pelos Estados Unidos.
Daidy Cutter. 7 toneladas de explosivo Finalmente, um acto de guerra também é útil porque oferece um ambiente ideal para o desenvolvimento de novas e mais sofisticadas armas. No Afeganistão foi experimentado o míssil ar-terra Agm-142, a nova bomba de 7 toneladas Daisy Cutter e, principalmente, tem sido testada a utilização de dois tipos diferentes de aeronaves não tripuladas, o Predador e o Global Hawk. Não surpreende que num artigo publicado dois anos atrás, no Economist, o subtítulo era: “O conflito no Afeganistão é um campo de experimentação para a tecnologia dos aviões sem piloto.”
O cenário apresentado neste artigo preocupa o leitor? E qual a razão? A história é cíclica! Si vis pacem (económica), para bellum (se queres a paz -económica neste caso-, prepara a guerra, NDT). É o capitalismo! E todos nós, querendo ou não, somos parte disso. Então, por favor, nada mais de hipocrisias: as máquinas de morte fornecem o pão para os filhos de milhões de trabalhadores norte-americanos e representam o preço que temos de pagar para recomeçar. Se, pelo contrário, o vosso desejo é esperar para as milagrosas receitas da Fed ou do FMI sócios…
Fonte: Mauro Bottarelli em Sussidiario
Tradução: Informação Incorrecta

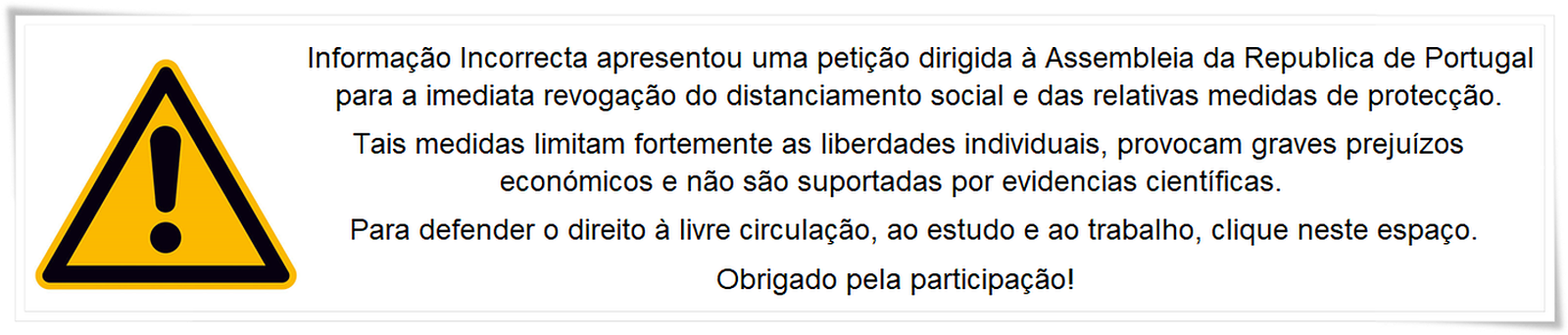


Eles continuam a preparar o público para ambos os casos, Irão com a propaganda da TV e as incessantes sanções da ONU, EUA e agora Europa.
E de à um ano pra cá que se fala muito de ETs e OVNIs. Ainda à coisa de uma semana tivemos a conferência dada por ex-oficiais Americanos (principalmente da Força Aérea) a relatar as suas experiências relacionadas com OVNIs.
Aconselho a quem quiser por alguma lógica nesta possibilidade a ouvir as entrevistas de Rik Clay.
Obrigada Max por esse achado!
A história é cíclica tanto quanto o tempo e ao darmos uma espiadinha na história, veremos que infelizmente, estamos com o pé numa nova guerra.
E já estão fazendo propaganda do possível estopim, os atentados na Europa e claro, culpando novamente o morto vivo Bin Laden e sua organização. É lamentável!
Grande abraço
Eu avanço uma quarta hipótese e bem mais crivel Max, atenção à organização de Xangai.
Creio que em breve teremos guerra sim, mas entre dois blocos militares, entre a NATO e a Organização de Xangai ou seja o ocidente contra a maior parte da Ásia.
Não é à toa que houve manobras militares nos últimos tempos entre os países daquela organização.
Obrigado a todos, como sempre!
Verdade Mário, tinha-me esquecido do "pequeno pormenor" chinês.
Estados Unidos e Europa continuam a pressionar Pequim para que a moeda local, o Yuan, seja valorizado. Mas em Pequim não são todos parvos e respondem "Não, obligado".
O Yuan débil favorece, e muito, as exportações chinesas enquanto manda em crise o Ocidente.
O problema é que uma guerra contra a China agora seria um suicídio económico para os EUA: não têm um cêntimos!
Mas nunca se sabe…
Sou muito persistente investiga quem faz parte da Organização de Xangai…
Precisamente a China e a Rússia e quase todos os países da Ásia.
Agora pensa porque motivo estarão os EUA no Afeganistão.
Bingo, em cheio, no coração da Ásia.
Pois é…
Mais outros dados, a situação alimentar na Rússia é preocupante, por outro lado a China ficou melindrada com a provocação norueguesa.
Aceitas apostas agora Max?