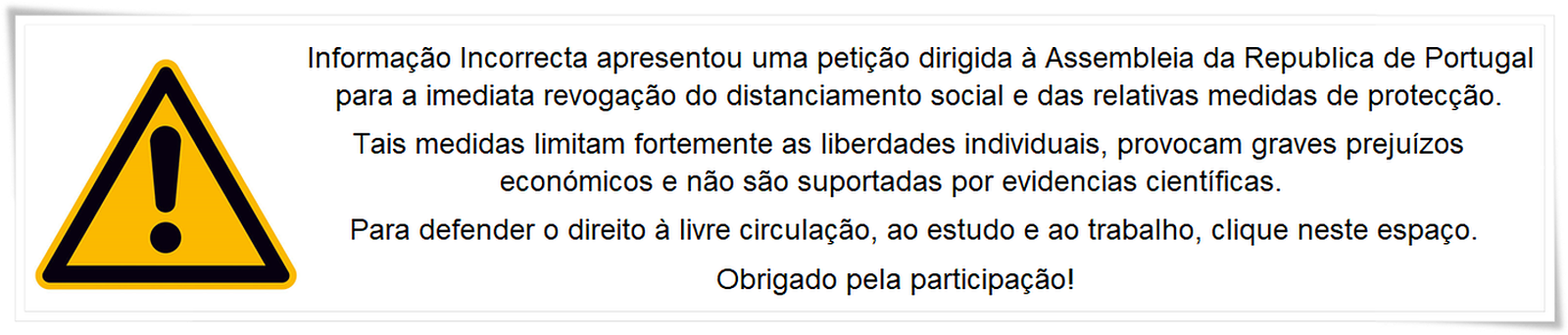Um magnifico artigo de Fabio Falchi, publicado em CPEurasia.
O assunto: a Europa e a sua condição de escravidão face aos Estados Unidos. Um história começada com o fim da Segunda Guerra Mundial e ainda não acabada.
A crise de Washington, o novo multipolarismo, uma nova consciência dos cidadãos europeus; tudo isso pode significar uma mudança?
Além do capitalismo, além do comunismo, há espaço para um novo projecto no Velho Continente?
A Europa será capaz de levantar-se em direcção à soberania e à cooperação continental, após a ocupação que sofreu durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria?
Em Bretton Woods, em Julho de 1944, enquanto a luta continuava na Normandia e os russos, tendo conquistado Vitebsk e Minsk, avançavam até Varsóvia, eram postas as bases para a nova ordem económica mundial e começava uma guerra entre os EUA e Grã-Bretanha que durou até 21 de Agosto de 1945, quando Washington anunciou a cessação de toda a ajuda financeira para a Inglaterra. Ficava sancionado assim o fim do imperialismo britânico e o início da nova “global” norte-americana. Os britânicos foram considerados os vencedores “morais” da guerra, como ainda costumam a dizer, mas os verdadeiros vencedores foram, sem dúvida, a URSS e os EUA.
Por outro lado, os dois Países não foram bem sucedidos, por assim dizer, ao mesmo nível: se para os Russos, que haviam contribuído significativamente para a derrota da Alemanha nazista, o custo da guerra era enorme, para os Americanos a guerra tinha sido um grande negócio, aliás os maior negócio, não só económico, da história deles.
Paul Edwards, que havia trabalhado no New Deal, tinha que fazer, francamente, a seguinte avaliação: “A guerra foi um período magnífico [para os Americanos]. Os agricultores do Dakota do Sul, aos quais tinha fornecido um subsídio […] quando voltei para casa valiam um quarto de milhão de Dólares “.
O total da frota mercantil dos EUA, que antes da guerra era quase a metade da marinha mercantil inglesa, em 1945 atingiu o dobro da Grã-Bretanha.
E os Britânicos tiveram até que resignar-se a reconhecer a hegemonia política e económica norte-americana no sector do petróleo e do Médio Oriente, que viu, entre outras coisas, o nascimento do Estado (“colonial”) de Israel, com o apoio decisivo dos EUA.
No entanto, o início da Guerra Fria e a divisão do mundo em dois blocos, URSS e Países satélites versus EUA e os seus aliados, não tornou fácil, para a maioria dos Europeus, entender o que realmente estava em jogo no imenso conflito e quais foram as consequências de uma guerra que, como a Primeira Guerra Mundial, não foi senão uma guerra civil europeia “exportada “em todo o mundo. Os Estados europeus tinham, de facto, uma soberania limitada: isso era verdade não só, como alegado no Ocidente, para o Leste Europeu, mas também para a Europa Ocidental.Com o colapso da URSS no início dos anos Noventa do século passado, porém, apareceu pela primeira vez após a II Guerra Mundial, a capacidade de “negociar” com novas bases a Aliança Atlântica ou até de abolir a NATO, faltando a sua raison d’être. A NATO, na verdade, cujo objectivo era opor-se a uma eventual agressão militar da União Soviética contra a Europa Ocidental, uma vez desaparecido o “império do mal” (prontamente substituído com outro “mal absoluto”, ou seja o fundamentalismo islâmico ), foi transformada ao longo das últimas duas décadas numa organização político-militar, a jurisdição universal, que tem como principal objectivo o controlo estratégico da Eurasia, abandonando o direito internacional “clássico” (intervir apenas em caso de agressão) a favor do “direito de ingerência” humanitária ou não.
Esta transformação, que revela o duplo papel da NATO desde a sua criação (ou seja, “defender” a Europa Ocidental é também a “paz americana”) tem sido possível porque os Países europeus essencialmente por três razões, não puderam ou não quiseram desfrutar uma ocasião histórica, difícil de repetir.
Em primeiro lugar, a intelectualidade europeia, principalmente de esquerda, progressista e confiante no destino magnífico do aparato técnico e produtivo, considerou necessário, ao invés de combater, suportar sem críticas o processo de modernização: os marxistas convencidos de que a sociedade fosse pronta para uma revolução (o chamado “capitalismo maduro”), o neokeynesiani convencidos que fosse uma vaca pronta para ser mungida.Uma miopia que a crise do comunismo e da social-democracia deixou, dentro de uma década, os intelectuais de esquerda com só uma alternativa: ou saltar sobre o carro dos vencedores e converter-se para a ideologia capitalista made in EUA (com a possibilidade de os figurantes, bem pagos, no circo mediático ocidental), ou interpretar o próprio fracasso político nas “torres de marfim” da cidadela académica, cada vez mais auto-referencial e incapaz de influenciar a dinâmica social e política do nosso tempo.
Em segundo lugar, a colonização americana dos “mundos vitais” tinha tão alterado e prejudicado as diferentes identidades nacionais de forma a tornar quase totalmente indiferentes os cidadãos europeus em relação às questões políticas, aparentemente abstractas, mas de facto suficientes para afectar todos os aspectos da vida um País. Assim, se é possível falar duma hegemonia política e económica dos EUA até a década de Oitenta, desde então é inegável que foi implementada uma verdadeira hegemonia cultural americana, capilar e invasiva; muito perniciosa pois despercebida e por isso sofrida como um “destino histórico”, ao qual seria impossível ou mesmo “louco e criminoso” escapar.
Decisivo, porém, foi o comportamento das classes dominantes, ou, para ser mais explícito, a traição deles da Europa. Por exemplo, os políticos italianos não têm vergonha de perseguir o “grande poder” apenas para consolidar o próprio “pequeno poder”, e não hesitaram em seguir o “conselho” dado a bordo do iate Britannia e iniciar um processo de privatização da res publica [a “coisa pública”, NDT] e do que sobrava da soberania nacional, que ainda existia, para garantir um lugar “para a vida”. O que, sem o consentimento da esquerda, não poderia ter acontecido, ou pelo menos não poderia ter sido imposto sem graves (e necessários!) conflitos sociais.
Mas não só a Itália, a própria União Europeia, ao invés duma entidade política configura-se agora (completamente sem uma própria visão geopolítica) como um “supermercado” que, além da retórica europeista, é totalmente funcional à lógica do poder atlantista. Não é de estranhar então que a Europa, que foi construída mais para reforçar o poder dos bancos e das lobbies em vez que para promover a mudança social que fosse no interesse dos povos da Europa e para defender a ideia de bem comum, dependa sempre mais de decisões tomadas no exterior e deve até dobrar-se perante a (pre)potência de Israel. Um País que não pode ser considerado um simples aliado dos EUA, sendo o único País que pode influenciar, se não determinar, a política de Washington (e não só).
É legítimo portanto afirmar que no tabuleiro internacional os Países europeus não são senão os peões dos EUA, embora a estratégia política seja capaz de garantir aos poderes económicos, incluindo os “europeus”, que também controlam os principais media, de continuar a ocupar posições privilegiadas e impedir perturbações.
No entanto, depois de vinte anos desde a queda do Muro de Berlim, o turbocapitalismo e o monopolarismo da grande “talassocracia” (os EUA, NDT) estão em crise e seria possível para a Europa quebrar as correntes que mantiveram o cativeiro desde o final da Segunda Guerra Mundial. O condicional, no entanto, é uma obrigação, uma vez que (como já foi tentado, embora muito brevemente, de realçar) a situação na Europa parece ser muito pior do que era no início dos anos Noventa. Não é possível cultivar qualquer ilusão. Testemunhamos o surgimento de novas potências como a China e a Índia, da política do Irão, da Venezuela e agora (felizmente), também da Turquia de Erdogan, e não pára o papel não secundário no cenário mundial da Rússia de Putin, que, após a saída do “gueto” em que Eltsin (com a ajuda de interessados e conhecidos “filantropos” americanos, com ou sem dupla cidadania) a tinha confinado, impede, por agora, que a maré americana possa submergir a Eurasia.
Mas a Europa ainda está paralisada, parada em 1945, paralisada por categorias políticas e culturais obsoletas e “incapacitantes”. No entanto, embora lentamente, está a ganhar terreno a convicção de que o anti-fascismo e os intelectuais Maginot (assim definidos por Costanzo Preve), ou seja aqueles que querem lutar a IV Guerra Mundial com os mapas militares da Segunda, são a ponte levadiça sobre a qual passam os verdadeiros inimigos da Europa.
É certo que não é muito, mas aos menos é o sinal de que o Novecento, o século que viu falhar cada tentativa (do comunismo ao fascismo, da social-democracia escandinava ao populismo do Terceiro Mundo) para superar a “barbárie do comerciante”, finalmente entregou as rédeas ao novo século. É claro, saber quem é o “inimigo” (não o inimicus, mas, como ensina Carl Schmitt, o hostis, o inimigo público) não significa que a guerra possa ser considerada já ganha; mas pode “orientar” na difícil tarefa que homens e mulheres da Europa têm de enfrentar, indivíduos não dispostos a ver mercantilizada a própria identidade, de acordo com a lógica da globalização atlantista.
Naturalmente, qual será a Europa do século XXI dependerá em grande parte do que poderão ser os Europeus. Ou seja: ou ficar “ocidentalizados” para não assumir os riscos que são inevitavelmente ligados a um “acto político” (no sentido lato do termo) autónomo e responsável; ou ir além da “linha” do Ocidente para encontrar o próprio “Oriente”.
Fonte: CPEurasia